CINCO FILMES DO FESTIVAL QUE MERECEM UM TEXTO
Por Ciro Inácio Marcondes, crítico e Professor de História do Cinema pelo IESB e pela UnB.
Primeiramente, acho importante deixar claro que estes filmes que selecionei para criticar não são de forma alguma um tipo de escolha absoluta, e nem figuram em nenhum tipo de “seleção dos melhores”. Passeei, com muito prazer, em várias sessões da mostra Brasília e digital, tanto no Teatro quanto no Cine Brasília, e pesquei algumas coisas interessantes, pitorescas, algumas primando pela excelência cinematográfica, outras por um esforço inteligente em superar ou subverter suas próprias inconsistências, mas sempre filmes que, de um jeito ou de outro, merecem (precisam?) ser vistos, especialmente pelo público de Brasília. Deixo claro que não vi todos os incontáveis filmes dessas mostras e que deixei ótimos filmes (alguns melhores que os contemplados) de fora. Critérios, sempre randômicos e subjetivos. Como base, apenas selecionar filmes que não estivesse concorrendo pela mostra em 35 mm. – CIM
I Juca Pirama, de Elvis Kleber e Ítalo Cajueiro, DF.
 Quando soube que constava no Festival uma adaptação em animação do nosso quase épico poema de guerra do romantismo I Juca Pirama, eu, como ex-estudante de Letras, me senti num certo dever de conferir. Primeiro por desfazer uma estranha ambiguidade em relação a Gonçalves Dias e uma até certo ponto heroica geração de nossa literatura. Por mais que, enquanto estudante de Literatura, naturalmente odiasse nossa decalcada e simplória literatura romântica, sempre houve uma atração pela expropriação exótica, de poema homérico e aculturação burguesa, que é o canibalismo de I Juca Pirama.
Quando soube que constava no Festival uma adaptação em animação do nosso quase épico poema de guerra do romantismo I Juca Pirama, eu, como ex-estudante de Letras, me senti num certo dever de conferir. Primeiro por desfazer uma estranha ambiguidade em relação a Gonçalves Dias e uma até certo ponto heroica geração de nossa literatura. Por mais que, enquanto estudante de Literatura, naturalmente odiasse nossa decalcada e simplória literatura romântica, sempre houve uma atração pela expropriação exótica, de poema homérico e aculturação burguesa, que é o canibalismo de I Juca Pirama.
Pois bem. Conhecendo o trabalho de Ítalo Cajueiro e Elvis Kleber em O coronel e o lobisomem, sabia que podia esperar esmero na qualidade de animação e também uma abordagem cuidadosa e planejada, a partir de um corte conceitual. E o filme corresponde a esta expectativa, de maneira clássica, mas captando, de certa forma, a beleza original do poema. Minha memória a respeito do I Juca Pirama que todos lemos (líamos?) na escola, era a de um funesto entrechoque de tribos a partir de um prisioneiro, e meus professores de Literatura sempre o liam de maneira sincopada, entregando-se às demandas simbolistas do poema, vertendo-nos ao mundo tribal de valentia, honra e desmedida de Timbiras e Tupis.
A animação recupera este fluxo tradicional de nossa cultura, mas não só. Em princípio com uma abordagem simples, purista e dedicada à essência tradicional deste texto, os diretores a complexificam com linda paisagem de texturas em animação que lembra O Planeta Fantástico, de René Laloux, clássico setentista da contracultura francesa que primou por expor o exotismo alienígena numa animação texturizada e febril, acredito, com os mesmos fins que o trabalho neste I Juca Pirama. Vozes de irretocável profissionalismo por parte de Ruy Guerra, Roberto Bontempo, Murilo Grossi e João Antônio (grande time) acabaram, por fim, em transformar a experiência do poema em um mergulho mitológico, que a animação faz questão de verter em uma terra distante e originária, um Brasil morto que se reconstrói diante de nós.
É uma pena que, ao menos em minha visão, este mergulho, ao mesmo tempo clássico e de certa forma contracultural, tenha se rendido a uma politização e contextualização contemporâneas absolutamente desnecessárias. Creio que os autores caíram em duas armadilhas: a de achar que a adaptação clássica não era cinematograficamente suficiente; e a de achar que a lenda indígena relatada pelo poema, em si, já não seria suficiente representação, projeção e homenagem à cultura dos povos originários destas terras. Se o poema I Juca Pirama, no século XIX, já era uma apropriação da colônia, a partir de moldes estéticos europeus (os épicos gregos; a cavalaria provençal dos medievos), não era necessário que um novo grupo de metropolitanos explicitasse as demandas indígenas na contemporaneidade, reforçando o mote pós-colonial de que the subaltern cannot speak. No fim das contas, o que era um belo trabalho imersivo e fascinante neste mundo antigo que ainda reverbera optou por afirmar que o código da poesia não dava conta da intenção panfletária.
O Filho do Vizinho, de Alex Vidigal, DF.
 Alex Vidigal é um realizador de grande versatilidade, trazendo em seu leque de referências uma grande quantidade de cinemas fora dos padrões, do mais erudito, ao mais underground, ao mais pop. É ele um dos responsáveis diretos pelo sucesso de um dos mais inteligentes fenômenos de internet saídos de Brasília, a genial série “É Nóis”, que reconstrói, num alucinado processo que envolve elementos do ridículo, do cultismo dedicado e da fanfarronice, culturas de cinema valiosas e esquecidas. É por isso que surpreende ver que seu filme na mostra digital, O Filho do Vizinho, seja manifestação tão singela e, arrisco dizer, de certa forma até pessoal, das vicissitudes nobres que constituem a infância.
Alex Vidigal é um realizador de grande versatilidade, trazendo em seu leque de referências uma grande quantidade de cinemas fora dos padrões, do mais erudito, ao mais underground, ao mais pop. É ele um dos responsáveis diretos pelo sucesso de um dos mais inteligentes fenômenos de internet saídos de Brasília, a genial série “É Nóis”, que reconstrói, num alucinado processo que envolve elementos do ridículo, do cultismo dedicado e da fanfarronice, culturas de cinema valiosas e esquecidas. É por isso que surpreende ver que seu filme na mostra digital, O Filho do Vizinho, seja manifestação tão singela e, arrisco dizer, de certa forma até pessoal, das vicissitudes nobres que constituem a infância.
Sem pátina de trash, sem citações diretas, exibicionismo técnico ou de cultura cinematográfica, Vidigal vai contando sua história de contrastes (entre um menino endiabrado, odiado pela vizinhança, e um menino misterioso, preso dentro de casa, que recebe excessiva atenção) semeando os elementos infantis de maneira natural e livre de responsabilidades: um efeito sonoro à la Trapalhões aqui, um recorte dentro da tela estilo TV Colosso ali, um corte em continuidade de desenho animado acolá. Tudo isso só dá certo porque a voz que narra o filme parece extraída dos escombros de um Vidigal moleque, criança de bairro, aventuras legítimas, questionamentos de pirralho. Puissance infantil, enfim.
Há apenas uma citação explícita que chama a atenção no filme, e é ela, bastante exata e espirituosa, que nos livra um pouco do dever de criticar um certo ar de pieguice que se apodera da cena final do filme. O filho do vizinho, moleque travesso, é impedido de entrar na festa à fantasia da criança narradora. Enquanto os outros coleguinhas desfilam com tradicionais fantasias de super-heróis planos e manipuláveis, tipo Homem-Aranha, a criança indesejada aparece fantasiada de Alex, protagonista do über-cult Laranja Mecânica.
Esse insert de referência é importante porque, de certa forma, nos explica a força motriz do filme: se em Laranja Mecânica o endiabrado é um punk alucinado, egoico e psicopático que é lobotomizado socialmente através de um processo governamental fascista de regeneração, em O Filho do Vizinho o punk alucinado, como se lhe fosse aplicada uma visão cinematográfica mais condizente com suas reais potencialidades, usufrui de seu ímpeto selvagem e libertário para realizar a única boa ação, essencial, que os pais cuidadosos não conseguiam trazer ao menino enclausurado. No final das contas, o filme reverbera em nós porque todos temos vontade, vez e outra, de voar nas asas dos bad guys, nem sempre tão bad assim.
Bastar, de Gustavo Serrate, DF.
 Um pequeno problema que geralmente pode ser diagnosticado em festivais como o de Brasília e outras mostras grandes Brasil afora é uma certa exclusão, de maneira praticamente arbitrária e diria até pedante, de gêneros mais vinculados a cultos específicos, como o horror e a ficção científica, mas que hoje possuem representatividade até maior, junto tanto a circuitos críticos quanto à população em geral, do que os filmes de arte, sempre protegidos. Esse não é caso atual de festivais como Cannes, que acaba de premiar um filme de fantasia de Apichatpong Weerasethakul, ou prêmios como BAFTA e Goya, que consagraram o filme de terror sueco Deixa ela entrar. O sentido deste movimento é quebrar a lógica chauvinista de que somente artistas consagrados no filme de arte extraem o potencial destes gêneros, como seriam os casos de Kubrick, Polanski, Lynch, etc. Bastar, filme modesto de Gustavo Serrate, está longe de tais requintes, mas poderia perfeitamente ter constado na mostra competitiva em digital.
Um pequeno problema que geralmente pode ser diagnosticado em festivais como o de Brasília e outras mostras grandes Brasil afora é uma certa exclusão, de maneira praticamente arbitrária e diria até pedante, de gêneros mais vinculados a cultos específicos, como o horror e a ficção científica, mas que hoje possuem representatividade até maior, junto tanto a circuitos críticos quanto à população em geral, do que os filmes de arte, sempre protegidos. Esse não é caso atual de festivais como Cannes, que acaba de premiar um filme de fantasia de Apichatpong Weerasethakul, ou prêmios como BAFTA e Goya, que consagraram o filme de terror sueco Deixa ela entrar. O sentido deste movimento é quebrar a lógica chauvinista de que somente artistas consagrados no filme de arte extraem o potencial destes gêneros, como seriam os casos de Kubrick, Polanski, Lynch, etc. Bastar, filme modesto de Gustavo Serrate, está longe de tais requintes, mas poderia perfeitamente ter constado na mostra competitiva em digital.
Cabe contextualizar: Gustavo Serrate (Cineasta 81) tem um trabalho personalizado e pouco tradicional junto a outros realizadores (como Tiago Bellotti, que protagoniza este filme) em busca de um cinema de gênero (em geral o terror, enviesado por certo psiquismo e pelo trash) bastante genuíno, feito em Brasília. Eles conseguiram um feito incrível ao concluir e popularizar o longa gore A Capital dos mortos, filme de zumbis interessante cuja principal virtude talvez seja justamente a atuação de Serrati. Em Bastar, a concepção cinematográfica em geral cresce vertiginosamente.
Em ambiente enevoado, sombrio e paranoico nos deparamos com o protagonista, que dá nome ao filme, em meio a uma biografia sumarizada numa primeira sequência de fatos desimportantes até que Bastar seja atacado, assiduamente, por um homem-criatura brutal de olhos esbranquiçados, a cada lua cheia. A partir daí, com um aproveitamento consciente e impressionante de locações no centro de Brasília, a figura triste e grotesca de Bastar, juntamente a uma pequena galeria de tipos trash e suburbanos, inverte o processo e passar a caçar seu predador a fim de liquidar sua própria sutura psicológica.
Entre tomadas sob a lua cheia e uma alimentação constante do silêncio, do suspense e de um trânsito constante dos personagens por cenários lúgubres, decadentes e até oníricos, impressiona o timing com que o filme se desenvolve e é montado, destacando-se a crueza e ao mesmo tempo artificialidade da edição de som. No final das contas, deixando o final em aberto e provocando o espectador a querer ver o personagem em novas produções, Serrati faz um acertado acordo entre as linguagens da televisão e do cinema, convocando a crítica brasileira a buscar inteligência a partir de uma cultura que nasce, se desenvolve e amadurece no gênero do horror.
Kcrisis, de Thiago Moyses, DF.
 Tudo que dissemos a respeito de Bastar pode ser, de um jeito ou de outro, também auferido ao contexto desse Kcrisis, com a diferença de que defendê-lo é uma tarefa mais árdua. Primeiro pela fama, muitas vezes negativa, já adquirida pelo diretor Thiago Moyses, cinéfilo prematuro e idiossincrático formado na UnB, de carregar demais na excentricidade de seus filmes, muitas vezes incompreensíveis, ou kitsch, ou ingênuos, ou simplesmente além da conta do espectador. Segundo porque o filme Kcrisis em si, ao contrário de Bastar, não está tão bem resolvido em suas demandas narrativas, na tipologia pop dos personagens, na fluidez de sua trama e diálogos.
Tudo que dissemos a respeito de Bastar pode ser, de um jeito ou de outro, também auferido ao contexto desse Kcrisis, com a diferença de que defendê-lo é uma tarefa mais árdua. Primeiro pela fama, muitas vezes negativa, já adquirida pelo diretor Thiago Moyses, cinéfilo prematuro e idiossincrático formado na UnB, de carregar demais na excentricidade de seus filmes, muitas vezes incompreensíveis, ou kitsch, ou ingênuos, ou simplesmente além da conta do espectador. Segundo porque o filme Kcrisis em si, ao contrário de Bastar, não está tão bem resolvido em suas demandas narrativas, na tipologia pop dos personagens, na fluidez de sua trama e diálogos.
É por isso que podemos entender Kcrisis, um admirável e impressionante trabalho quase artesanal de animação em rotoscopia realizado pelo próprio Thiago, como um salto visível em sua carreira. Surpreendentemente para alguns, aqui ele supera um código amador e nem sempre voluntariamente trash presente em seus filmes anteriores para ambicionar contar uma história engendrada, com boas referências a Phillip K. Dick e animês como Ghost in the shell, a partir de uma produção mais cuidadosamente cinemática. Assim, Thiago realiza a correta escolha por abandonar um pouco o universo caótico, pessoal e autorreferente atribuído às suas realizações e buscar um ambiente menos freak e mais cult , menos quixotesco e mais abrangente, trazendo em Kcrisis um razoável panorama de reviravoltas, cenas de ação estimulantes e um ritmo que se intensifica no final do filme.
É claro que tudo isso é apenas meio caminho, estando a trama ainda confusa dentro de uma intriga governamental futurista e (talvez ingenuamente) sórdida, com uma quantidade enorme de reviravoltas e personagens que certamente não cabem num curta, à parte ainda a estranha contextualização. Além disso, a maturidade transfigurada na ambientação plástica e no arrojo visual do filme não é acompanhada pelos diálogos, muito didáticos, e pela caracterização dos personagens, menos sagazes do que se propõem. Mesmo assim, os plots abertos no fim do filme anunciam uma série de potencial pop undergroud sem perder a pegada exótica tão pessoal e típica de Thiago Moysés.
É preciso, no entanto, naturalizar a trama, dinamizar as arestas do desenvolvimento narrativo do filme e inflar os personagens de sordidez legítima, e pra isso o cineasta precisará de ainda mais tempo, imersão em culturas diversas à sua e maturidade, mas o caminho está apontado. O que solidifica um novo status e mudança de perspectiva sobre o cinema de Thiago é também, é claro, a presença, em pontas memoráveis, de gerações de homens importantes do teatro e cinema brasiliense: Hugo Rodas, Gê Martú, João Antônio, Andrade Júnior. Não deixa de ser significativo que estes homens de vanguarda, atentos à transformação das artes no Séc. XX, tenham enxergado potencial em uma ficção científica de produção brasiliense, oriunda da cultura nerd e do século XXI. Alguma cousa aí há.
Procedimento Hassali ao alcance de seu bolso, de Saulo Tomé e Natália Pires, DF.
 Procedimento Hassali, mais um filme da boa safra recente da Universidade de Brasília, é um dos falsos-documentários mais espirituosos e argutos realizados em bandas brasileiras. Pode-se dizer até que nosso cinema “sério” (tipo cinema novo ou retomada) tem uma pegada pelo épico, pelo trágico, pelo drama. Nosso cinema desprezado (tipo chanchadas ou embrafilme) tem uma pegada pelo deboche, por uma anarquização esculhambada tipicamente brasileira, um bas-fond do estado cinematográfico das coisas. Hassali tem essa última pegada, meio aloprado e marginal, travestido de caretice e “informação que você pode confiar”.
Procedimento Hassali, mais um filme da boa safra recente da Universidade de Brasília, é um dos falsos-documentários mais espirituosos e argutos realizados em bandas brasileiras. Pode-se dizer até que nosso cinema “sério” (tipo cinema novo ou retomada) tem uma pegada pelo épico, pelo trágico, pelo drama. Nosso cinema desprezado (tipo chanchadas ou embrafilme) tem uma pegada pelo deboche, por uma anarquização esculhambada tipicamente brasileira, um bas-fond do estado cinematográfico das coisas. Hassali tem essa última pegada, meio aloprado e marginal, travestido de caretice e “informação que você pode confiar”.
Assim, numa linguagem perfeitamente jornalística (de almanaque) e com um compromisso documental estilo “Globo Repórter”, somos levados a dezenas de entrevistas a respeito do fenômeno do tal procedimento, que consiste em religar organicamente pais e filhos através de um cordão que sai dos dentes. O absurdo da popularização deste fenômeno vai sendo contado com a eficiência de um jornalismo documental “ético e comprometido”, com planos de transição denunciadores, trilha sonora que dimensiona as emoções, entrevistas com especialistas, pessoas que realizaram o procedimento e o abandonaram, classes sociais distintas, timing de neutralidade, incitação à polêmica e entrevistas calculadamente apressadas, imbecilizantes, pífias.
Diante de uma geração audiovisual aparentemente sem talento para o humor realmente engraçado (já viram os novos programas do Multishow? E da MTV?), os garotos da UnB, num procedimento de negatividade nem tão sutil, acertam em cheio ao virar o jogo contra a estupidez da adesão viral a modas científicas e/ou médicas ignóbeis e sem sentido, assim como ao criticar a suposta neutralidade e incapacidade crítica do jornalismo televisivo e do documentarismo tradicional em geral. Assim como em tantos documentários que vemos por aí, os personagens de Procedimento Hassali nada têm (às vezes literalmente) a dizer, e nesse vazio é que encontramos espaço para o humor e, consequentemente, ao comentário social sagaz.
Comments
2 Responses to “CINCO FILMES DO FESTIVAL QUE MERECEM UM TEXTO”Trackbacks
Check out what others are saying...-
[…] de História do Cinema pelo IESB e pela UnB, fez uma crítica bem acertada sobre o filme no blog Cine Clube Iesb. Ai vai a crítica […]
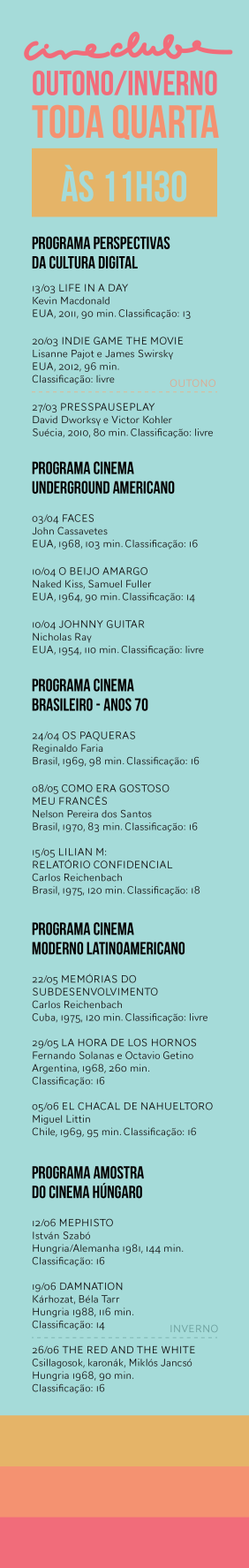
Gostei muito da crítica. Republiquei a parte que fala sobre o Bastar no meu blog com as devidas referências. Tem problema?
Abraços
(ai vai o link da republicação http://gustavoserrate.wordpress.com/2010/12/02/critica-ao-bastar/ )